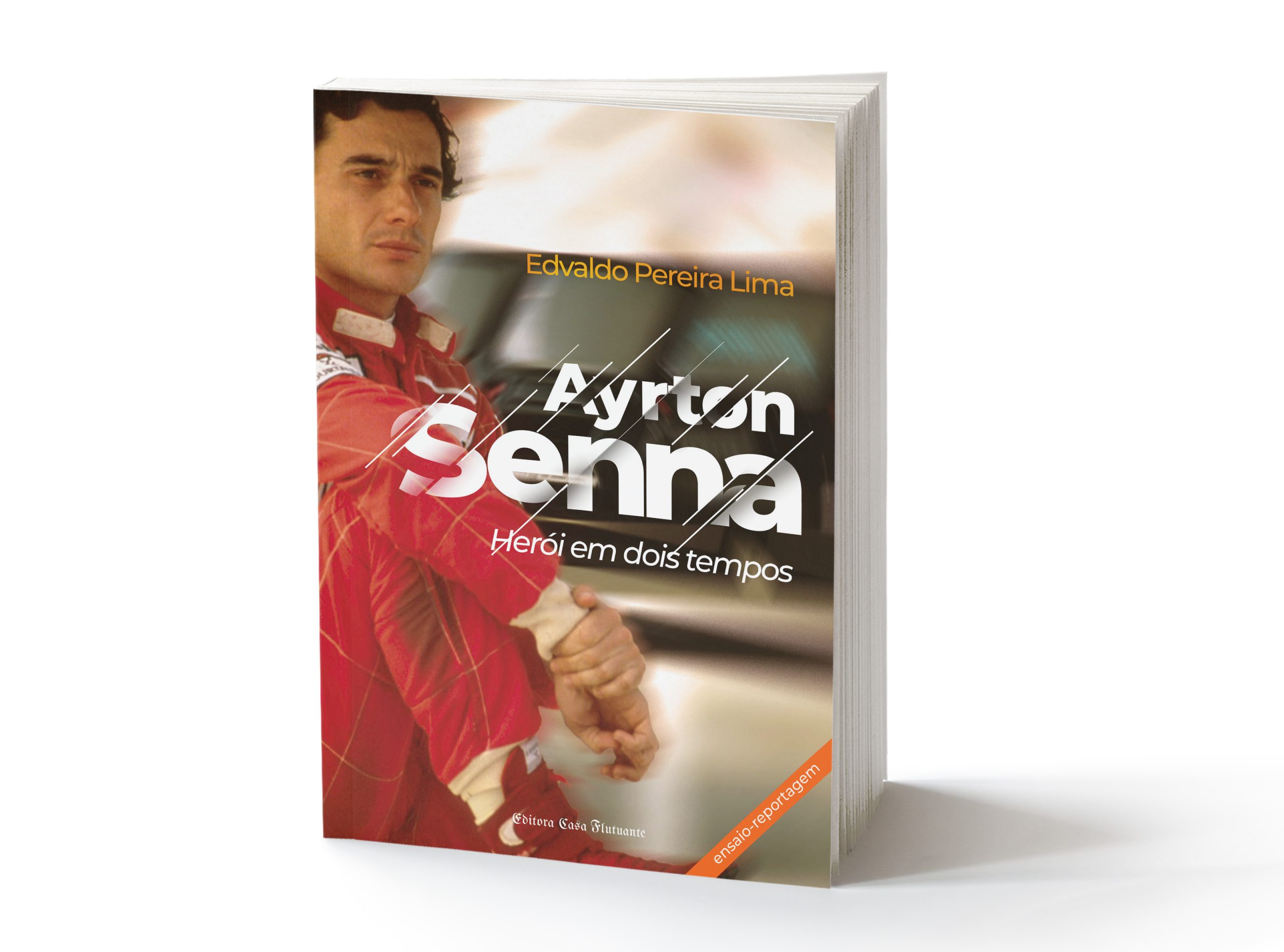4
Diego Moura
Recomeço

Dias depois da morte de Rogério, Débora passou uma semana internada, sofrendo de profunda depressão. É difícil pensar nela assim, abatida, ainda mais para quem já a tinha visto em atuação num debate, batendo forte no Estado, na Polícia Militar, dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco – onde o atual secretário de Segurança Pública dá aula – e na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, discutindo as chacinas acontecidas desde o começo do ano na cidade, ao lado de Lucimara, uma mãe que perdera o filho para policiais há sete meses.
– Nós não podemos deixar que o Estado aborte nossos filhos! – disse Débora, enquanto Lucimara enxugava o rosto com as costas da mão, silenciosa.
Débora já estivera na posição de luto da mãe de Mogi. Porém, quando fazia cinco dias que trocara a casa pela cama do hospital, o filho morto apareceu para ela.
– Ele me arrancou da cama. Ele que me deu a guinada, para eu vir pra luta. Ele falou: “mãe, eu não quero a senhora aqui. Eu quero que a senhora vá pra luta, pra lutar pelos que estão vivos. Eu não volto mais. Não tenho mais jeito. Pra mim é só a justiça.”
E ela foi. Tomou coragem e procurou outras mães que também perderam os filhos no mesmo maio de 2006.
– Eles não vão viver alimentados com o meu medo – brada sempre que pode.
Chegou na casa de Ednalva Santos, mãe de Marcos, um rapaz viciado em surf, assassinado por homens encapuzados no dia das mães. Em seguida, as duas bateram na porta de Vera de Freitas, cujo filho Mateus morrera ao lado de um amigo na pizzaria do bairro, no dia 17, nas mesmas circunstâncias do filho de Nalva. O medo deu lugar à luta por justiça, que logo contaminou Vera, uma senhora branca, de fala rápida e voz fina:
– Vai ter medo? Já tiraram o bem mais precioso da vida da gente. Se a gente não fizer alguma coisa, vai continuar. A Débora é isso, essa força que ela tem, de ir pra frente, encarar, fazer. Não deixar pra lá. Nós estamos sempre juntas, porque sozinha ninguém faz nada.
E, guiadas por Débora, uniram dezenas de mães e começaram a peregrinar nas delegacias, na ouvidoria da Polícia Militar, no Ministério Público. Com os inquéritos de 2006 arquivados, elas têm um dupla missão: exigir que o Estado pare de matar – recentemente a maior chacina registrada em São Paulo vitimou 19 pessoas em Osasco e Barueri, e tem fortes indícios de retaliação policial – e justiça para os crimes de maio, com a federalização das investigações. Há cinco anos o pedido para que o Ministério Público Federal reabra os casos e investigue de maneira independente repousa na mesa do procurador-geral da República.
– Polícia nunca vai investigar os irmãos de farda – afirmou Débora mais de uma vez.
Enquanto não houver a federalização, diz Débora, o Ministério Público continuará “matando nossos filhos com suas canetas”. Numa audiência com promotores, ela cunhou o termo “canetada assassina”, para se referir ao caso. E o Brasil ficou pequeno para as Mães de Maio.

Já denunciaram os crimes à Organização das Nações Unidas e à Anistia Internacional, que acompanha de perto os casos de violência policial do Brasil. Para se ter uma ideia apenas com o caso de Débora: não houve depoimento dos frentistas do posto onde a PM abordou Rogério, nem o caso do açúcar jogado no tanque de gasolina da moto dele chegou a constar no depoimento de Débora. Ela teve de pedir à promotoria cinco itens para a investigação: quais eram as viaturas em serviço, qual o percurso fizeram, quem abordaram, qual armamento usaram e quantos projéteis deflagraram. Ela.
Mesmo com todos os esforços, em 2007, a Justiça arquivou o processo e nunca se soube quem matou seu filho e boa parte dos outros mais de 500 assassinados entre os dias 12 e 21 de maio, como apontou um relatório da Universidade de Harvard sobre os crimes acontecidos no período.
Apesar de os crimes nunca terem sido esclarecidos, as Mães de Maio conseguiram que os túmulos dos filhos fossem perpetuados, ou seja, os restos mortais não poderão ser despejados para os ossuários depois de três anos. Portanto, o material estará lá disponível enquanto não houver “investigação severa”.
– Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não tá, mas eu tenho certeza que a memória do meu filho vai ser preservada. E a gente vai lutar, enquanto tiver no Brasil uma pena de morte decretada pros pretos, pobres e periféricos.
Quando a presidente Dilma Rousseff entregou o 19º Prêmio de Direitos Humanos para Débora, nem imaginava a saia justa que a fundadora do Movimento Mães de Maio a deixaria.
– Senhora presidente Dilma Rousseff – começou Débora – a senhora como mãe, a senhora como mulher e a senhora como avó, a senhora tá omissa, a senhora tá calada. A senhora está no seu aquário vendo milhares e milhares de brasileiros sendo assassinados e a senhora não se move. A senhora foi vítima da ditadura, e a gente tá aqui para dizer que ela não acabou. Ela não acabou.
E começou a gritar.
– Desmilitarização já! A ditadura não acabou!
Vários integrantes de movimentos sociais que estavam na plateia responderam ao chamado de Débora e ecoaram suas falas. Ela abriu a bandeira do movimento no palco. Similar à bandeira do Brasil, o pano das Mães de Maio não tem estrelas, mas cruzes; o verde e o amarelo deram lugar ao preto, “o sangue da juventude negra bebido pelo Estado”; e em vez de Ordem e Progresso, uma cruz branca transpassa a flâmula, com os dizeres “Memória e Verdade/Justiça e Liberdade”.
– Essa foi a bandeira que meu País me entregou.
A presidente cochichou com a ministra dos Direitos Humanos Maria do Rosário e mandou que Débora fechasse a bandeira. Ela dobrou o pano, mas Dilma, que discursou na sequência, quase não conseguiu terminar a fala, em meio a gritos de “assassina”.
Numa das fotos oficiais do evento, a fundadora das Mães de Maio aparece com o troféu – a silhueta de uma mulher de punho erguido. Ao lado dela, um sisudo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, olha para o lado, assim como Maria do Rosário. Dilma tem o olhar perdido. Todos aparentam constrangimento. Débora sorri.
A conquista, mais uma em sua estante dentre pelo menos dez prêmios conquistados nos últimos anos, foi mais para Rita, uma das mães do Movimento. Ela morreu em março deste ano, vítima de um câncer que se espalhou do útero para as trompas e os ovários.
– Ela morreu gritando. Ela disse: “não deixa – foi bem assustador – não deixa cair no esquecimento a morte do meu filho”. Aquilo não sai da minha cabeça.
Ela também está enterrada no Cemitério da Areia Branca ao lado de centenas de outras vítimas, diretas e indiretas, do Estado. Igual à Dona Maria, que conheci na caminhada por entre as gavetas mortuárias.
– Ô, dona Maria. Que coincidência! – exclamou Débora diante da gaveta mais alta da parede funerária.
Ela cumprimentava dona Maria da Pureza Araújo Noronha, morta em dezembro de 2012 em meio a uma depressão profunda. A tristeza arrebentou com o assassinato do neto, Ricardo Porto Noronha, de 17 anos. Única pessoa com quem dividia a casinha no alto de um morro da cidade portuária, dona Maria murchou até sumir. Ricardo estudava no Sesi e também queria jogar futebol. No dia seguinte à sua morte, a avó recebeu a notícia de que ele havia passado por uma peneira do Santos Futebol Clube.
Continua.
A voz dos mortos – Diego Moura – Capítulo 1
A voz dos mortos – Diego Moura – Capítulo 2
A voz dos mortos – Diego Moura – Capítulo 3
A voz dos mortos – Diego Moura – Capítulo 4
A voz dos mortos – Diego Moura – Capítulo 5