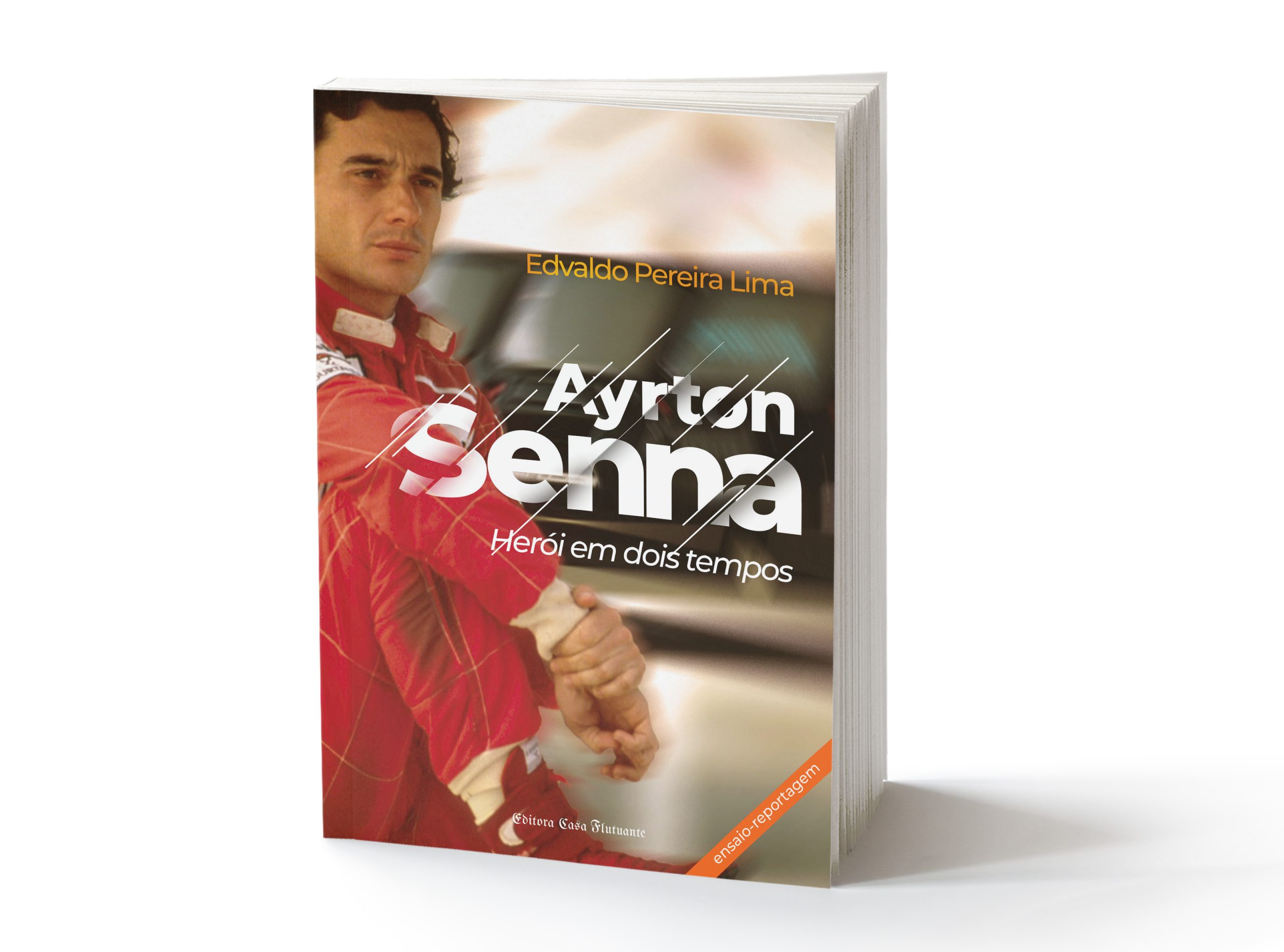O NOBEL DE SVETLANA ALEXIEVICH
A outorga do Prêmio Nobel de Literatura 2015 a Svetlana Alexievich, anunciada há pouco, tem um significado histórico para todo o campo do Jornalismo Literário. É a primeira vez que esse reconhecimento de altíssimo prestígio mundial vai para profissional cuja carreira está centrada, essencialmente, na produção de JL. Pouco importa se, a rigor, dêem ao seu trabalho outro nome, como jornalismo narrativo, ou simplesmente jornalismo de boa qualidade. O fato é que Svetlana, desconhecida do público brasileiro por falta de publicações de suas obras por aqui, é, em essência, autora que encarna o espírito central da literatura da realidade e demonstra, em alto e bom som, a universalidade do JL, bem como a fortaleza dos princípios fundamentais que regem sua prática em todas as partes do mundo. É sintómatico, igualmente, que a Academia do Nobel finalmente tenha admitido implicitamente o valor da literatura narrativa de não ficção, ajudando a estimular o olhar ainda tímido e excessivamente reservado de muita gente da área convencional de Letras e Literatura a se abrir para a incorporação dessa excepcional tradição da produção narrativa de histórias reais ao grande escopo cultural do universo literário da civilização contemporânea.
Navegando nesse oceano vasto do JL com seu estilo vigoroso próprio – a voz autoral é uma das marcas dessa tradição -, Svetlana tem colocado em evidência, nas suas obras, as histórias de anônimos ignorados pelo “main stream” das sociedades em que vivem e que formam o mapa geográfico e histórico do seu quadro temático de fundo, o mundo soviético e pós das regiões e povos afetados pelo poder político oriundo de Moscou. Surpreende o leitor trazendo para foco a ignorada e trágica realidade das crianças atropeladas pelo vendaval destruidor da guerra; questões dolorosas das mulheres no mundo em rápida mutação – nem sempre para melhor -; os soldados vítimas da crueza de seu império-patrão; os cidadãos comuns desenraizados brutalmente pelo maior acidente industrial da humanidade – o caso de Chernobyl -, tratados como dores de cabeça indesejáveis por um Estado – lá como aqui e em todas as partes – sempre a serviço de seus próprios interesses bestiais, contra os indivíduos e a dignidade do ser.
A seguir, dois brindes deste Curso de Pós-Graduação em Jornalismo Literário, epl: traduções livres de dois excertos de obras de Svetlana. Revelam um pouco do propósito narrativo dessa extraordinária, valorosa e destemida escritora da vida real, sinalizam seu modo de trabalho, onde se insere a absorção de recursos da História Oral.
**
Excerto de “Last Witnesses” (Últimas Testemunhas)
Svetlana Alexievich
Tradução de Edvaldo Pereira Lima
*
Na manhã de 22 de junho de 1941, numa das ruas de Brest, jazia uma menina, de pequeno rabo de cavalo solto e sua boneca.
Muita gente guardou essa imagem. Lembraram-se dela para sempre.
O que é mais querido a nós, do que nossas crianças?
O que é mais querido para qualquer nação?
Para qualquer mãe?
Para qualquer pai?
Mas quem conta quantas crianças são mortas pela guerra, que as mata duas vezes? Mata as que nascem. E mata as que poderiam, as que deveriam ter vindo a esse mundo. Em “Réquiem”, do poeta bielorrusso Anatoli Vertinsky, ouve-se um coro de crianças num campo onde jazem corpos de soldados mortos. As crianças não nascidas gritam e choram nas covas rasas.
A criança que passa pelos horrores da guerra ainda é criança? Quem lhe dá de volta sua infância? Certa vez Dostoievski abordou a felicidade geral em relação ao sofrimento de uma única criança.
Houve milhares assim nos anos1941 a 1945…
Do que se lembram? O que conseguem contar? Porque devem contar! Porque mesmo hoje em dia há bombas explodindo, balas assobiando, mísseis reduzem casas a escombros e poeira e as camas das crianças ardem. Porque mesmo hoje alguns querem guerra total, uma Hiroshima universal, em cujo fogo atômico crianças se evaporariam como gotas d´água, murchariam como flores terríveis.
Podemos perguntar o que há de heroico em crianças de cinco, dez anos de idade passarem por guerra? O que essas crianças podem entender, ver, lembrar?
Muito!
O que lembram de suas mães? De seus pais? Só suas mortes: “Um botão da blusa de mamãe ficou nos pedaços de carvão. E no fogão havia dois pedaços de pão quente” (Anya Tochitskaya – cinco anos). “E quando papai estava sendo despedaçado pelos alsacianos ele gritou: Leve meu filho daqui…Leve meu filho daqui para ele não ver isso” (Sasha Khvalei – sete anos).
Elas podem dizer também como morreram de fome e medo. Como fugiram para o front, como foram adotadas. Como, até hoje, é difícil perguntar-lhes sobre mamãe.
Hoje, são as últimas testemunhas desses dias trágicos. Depois delas, não há mais ninguém.
Mas são quarenta anos mais velhas que suas memórias. E quando lhes peço para se lembrar não é fácil para elas. Para elas, voltar àquele estado, àquelas sensações concretas da infância, parecia impossível.
Mas uma coisa incrível podia acontecer. Você poderia ver de súbito numa mulher de cabelo embranquecendo uma menininha implorando a um soldado, “Não esconda mamãe num buraco, ela vai acordar e aí vamos passear” (Katya Shepelyevich – quatro anos).
Abençoada seja nossa falta de defesa à memória. O que seríamos sem ela? Um homem sem memória só é capaz de fazer o mal, nada mais que o mal.
Em resposta à pergunta “Quem é então o herói desse livro? ”, eu diria: a infância que foi carbonizada, destruída e morta por bombas, balas, fome, medo e pela orfandade. Para registrar: em casas para crianças na Bielorrússia, em 1945, 26 mil e 900 órfãos foram criados. E mais um dado: cerca de 13 milhões de crianças pereceram na II Guerra Mundial.
Quem pode dizer agora quantas delas eram russas, quantas eram bielorrussas, quantas era polonesas ou francesas? Crianças morreram – cidadãs do mundo.
As crianças da minha Bielorrússia foram salvas por todo o país e criadas por todo o país. No grande coro das crianças eu ouço suas vozes.
Tamara Tomashevich lembra-se até hoje como na casa de crianças em Khvalynsk, no Volga, nenhum dos adultos levantou a voz para as crianças até que o cabelo houvesse crescido após a jornada. E Zhenya Korpachev, evacuado de Minsk para Tashkent, não se esquece da velha usbeque que levou à estação um cobertor para ele e a mãe. O primeiro soldado soviético na Minsk liberada pegou Galya Zabavchik de quatro anos nos braços e a menina o chamou de “papai”. Nella Vershok relembra como os soldados passavam pela aldeia e as crianças olhavam para eles e gritavam, “Nossos papais estão vindo. Nossos papais. ”
As crianças são as melhores pessoas da Terra. Como podemos protege-las nesse atribulado século XX? Como podemos preservar suas almas e suas vidas? E nosso passado e nosso futuro com elas?
Como podemos preservar nosso planeta no qual menininhas deveriam estar dormindo em suas camas e não jogadas mortas na estrada com seus rabos de cavalo soltos? Para que nunca mais a infância seja chamada infância de guerra.
Em nome de tal fé de mulher, como a minha, este livro é escrito!
“UMA CAMISA BRANCA BRILHA LONGE NA ESCURIDÃO…’
Yefim Fridland.
Nove anos. Agora, vice-diretor de um complexo industrial na produção de silício. Mora em Minsk.
Não me lembro como criança. A guerra começou e os caprichos da infância se acabaram. Tudo que me lembro da guerra não é de memórias da infância. Sentia-me como adulto. Tinha medo como adulto de que me matassem, eu entendia o que significa a morte, eu fazia trabalho de adulto, pensava como adulto. E ninguém nos tratava como crianças, naquela situação.
O que aconteceu antes da guerra eu esqueci. Só lembro que antes da guerra tinha medo de ficar sozinho em casa, mas depois o medo desapareceu. Já não acreditava mais nos espíritos que mamãe dizia que se escondiam atrás do fogão, e ela tampouco se lembrava deles. Fugindo de Khotimsk numa carroça, mamãe comprou um cesto de maçãs, colocou-o perto de mim e de minha irmã e nós comemos. O bombardeio começou, minha irmãzinha tinha duas maçãs gostosas nas mãos, começamos a brigar por elas, mas ela não me dava nenhuma. Mamãe gritou: “Saiam e se escondam! ”, mas nós dividimos as maçãs. Brigamos até que eu disse para minha irmã, “Dê-me só uma maçã, ou eles vão nos matar e eu nem experimentei”. Ela me deu uma, a melhor. Aí o bombardeio parou. Decidi não comer a maçã da sorte.
Ficamos apavorados quando vimos os mortos. Isso era medo de verdade. Era terrível e incompreensível, porque antes eu achava que só os velhos morriam, e que as crianças só morriam quando envelheciam. Quem instalou essa ideia em mim, de onde tirei tal ideia? Lembro que antes da guerra o avô do meu amigo morreu, mas não me lembro de outras mortes antes da guerra. Quando vi os mortos jogados nas estradas, fiquei com medo, mas mesmo assim eu subia nos ombros da mamãe para ver quem era. Fiquei aterrorizado quando vi as crianças mortas, meu medo era ao mesmo tempo de criança e de adulto. De um lado, como adulto, eu entendia que eles poderiam me matar, mas, por outro, como criança, eu entrei em pânico, como é que eles podem me matar? Onde vai ser?
Viajávamos na carroça e à nossa frente estava o gado. De papai – até a guerra ele era o diretor da seção de gado em Khotimsk -, nós sabíamos que aquelas vacas não eram comuns, mas de raça, que custavam muito dinheiro, no estrangeiro. Lembro que papai não conseguia explicar quanto custavam – “muito dinheiro” – até que ele deu o exemplo de que cada vaca valia um tanque. “Vale um tanque” queria dizer um bocado de grana. As pessoas cuidavam das vacas.
Como cresci na família de um especialista em gado, eu adorava os animais. Após o bombardeio seguinte, fugimos sem a carroça. Aí caminhei na frente do gado, amarrando-me ao touro, Vaska. Ele tinha um elo de corrente no nariz, uma corda passava no elo e eu amarrei a ponta da corda em mim. As vacas custaram a se acostumar ao bombardeio, elas eram preguiçosas, não estavam acostumadas com os roupões de frio que colocamos nelas, os passos eram trôpegos, ficaram terrivelmente cansadas. Depois de cada ataque era muito difícil juntá-las. Mas se o touro caminhasse, então elas o seguiam e o touro só obedecia a mim.
À noite minha mãe lavava minha camisa branca em algum lugar e de manhã o Primeiro Tenente Turchin, que comandava a linha de carroças, gritava, “Levantem-se”, eu vestia a camisa, pegava o touro e seguia em frente. Sim, eu me lembro que todo o tempo eu usava minha camisa branca. No escuro, brilhava à distância, todos podiam me ver. Eu dormia no touro, sob as patas dianteiras, era mais quente assim. Vaska nunca se levantava primeiro, sempre esperava até que eu me levantasse. Ele sabia que perto dele tinha uma criança e que ele podia machucar aquela criança. Eu deitava nele e nunca me preocupava.
Fomos a pé para Tola. Tinha sobrado pouca gente, as tetas das vacas estavam inchadas. Uma vaca, as tetas doendo, parou perto e olhou para mim. Eu tinha câimbras nas mãos: num dia a gente tirava leite de quinze, vinte vacas. Ainda me lembro de uma vaca deitada na estrada com uma perna quebrada, leite pingando das tetas azuladas. Olhava para as pessoas e parecia estar chorando. Os soldados viram isso, pegaram as submetralhadoras e se preparam para atirar. Eu pedi: “Esperem um minuto”.
Fui lá e aliviei o leite da vaca, para o chão. A vaca lambeu meu ombro, agradecida. “Tudo bem”, levantei-me. “Agora atirem”. Mas eu próprio corri para longe, não queria ver aquilo.
Em Tutu soubemos que todas as vacas de raça que estávamos trazendo iriam para a fábrica de processamento de carne; não havia nenhum outro lugar para ir. Os alemães estavam se aproximando da cidade. Vesti minha camisa branca, fui dizer adeus a Vaska. O touro respirou pesado no meu rosto.
No começo de1945 estávamos voltando para casa. Estávamos nos aproximando de Orsha, eu estava à janela. Senti que mamãe estava de pé, atrás de mim. Abri a janela. Mamãe disse: “Você reconhece o cheiro dos nossos pastos? ” Raramente choro, mas comecei a mugir. Durante a fuga eu até sonhava com o corte do capim dos pastos, como os ajuntávamos em pequenos bandos, e como o feno cheirava quando um pouco seco. Eu achava que o cheiro do capim dos nossos pastos não existia em nenhum outro lugar. No Dia da Vitória, nosso vizinho, tio Kolya, correu para a rua e começou a dar tiros para o alto.
Os menininhos o cercaram:
“Tio Kolya, dá prá mim!”
“Tio Kolya, dá prá mim! ”
Ele deu o rifle para todos eles. Pela primeira vez na vida dei um tiro de rifle também…
***
Excerto de”Voices of Chernobyl” (Vozes de Chernobyl)
Svetlana Alexievich
Tradução de Edvaldo Pereira Lima
Foi assim no começo. Não apenas perdemos uma cidade, perdemos nossas vidas. Saímos no terceiro dia. O reator estava em chamas. Lembro-me de um amigo meu dizer, “cheira a reator”. Era um cheiro indescritível. Mas os jornais já estavam escrevendo sobre isso. Fizeram de Chernobyl uma casa de horrores, mas na verdade fizeram dela uma caricatura, apenas. Vou contar o que é meu, de verdade. Minha verdade.
Foi assim: Eles anunciaram no rádio que a gente não podia levar os gatos. Assim, nós colocamos nossa gata na mala. Mas ela não queria ir, saiu de lá. Arranhou todo o mundo. Ninguém pode levar seus pertences! Certo, não vou levar todas minhas coisas, levarei apenas uma coisa. Só uma! Preciso arrancar minha porta do apartamento e levar. Não posso deixar a porta. Vou cobrir o buraco com papelão. Nossa porta – é nosso talismã, uma relíquia de família. Meu pai foi velado na porta. Não sei de quem é essa tradição, não parece ser assim em nenhum outro lugar, mas minha mãe me disse que o defunto deve ser colocado na porta de sua casa. Ele fica lá até trazerem o caixão. Sentei-me ao lado do meu pai a noite toda, ele foi colocado na porta. A casa ficou aberta. A noite toda. E essa porta tem umas marquinhas nela. Sou eu crescendo. Está marcado lá. Primeiro grau, segundo grau. Sétimo. Antes do exército. E depois disso: como meu filho cresceu. E minha filha. Minha vida inteira está escrita nessa porta. Como é que eu possa deixa-la?